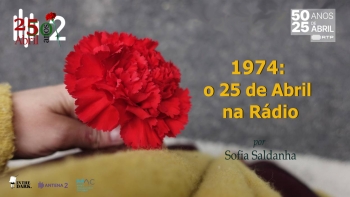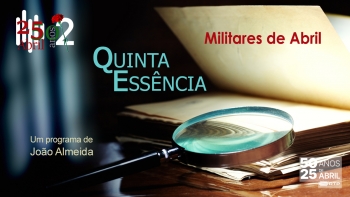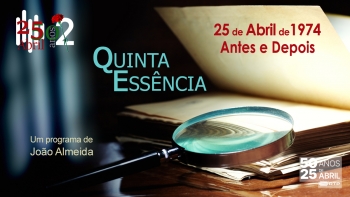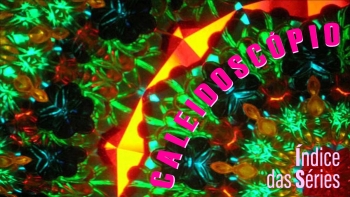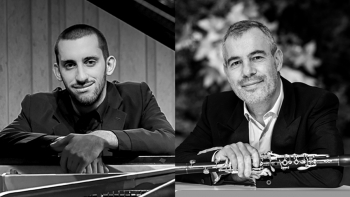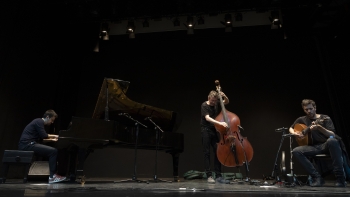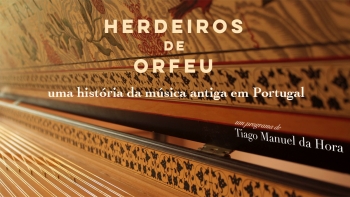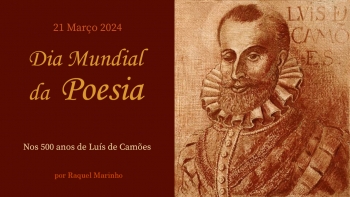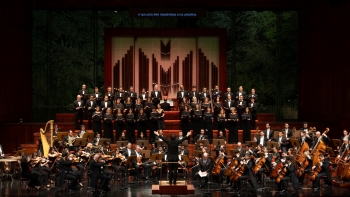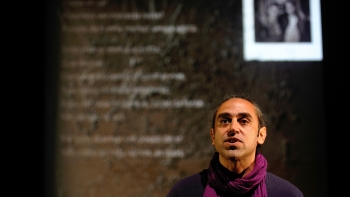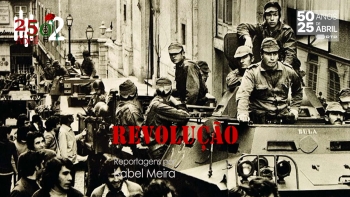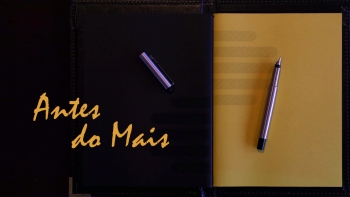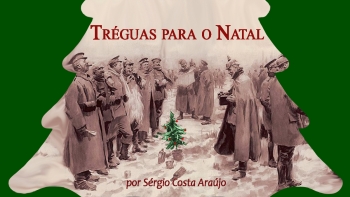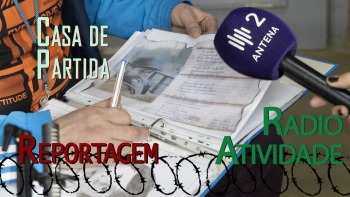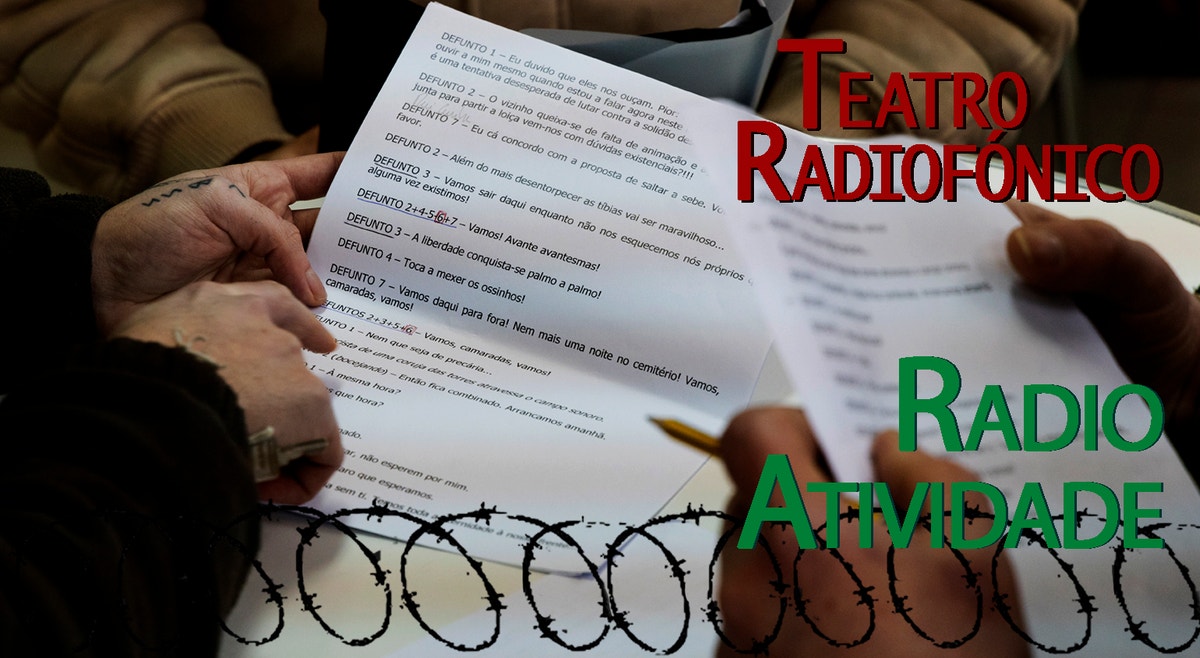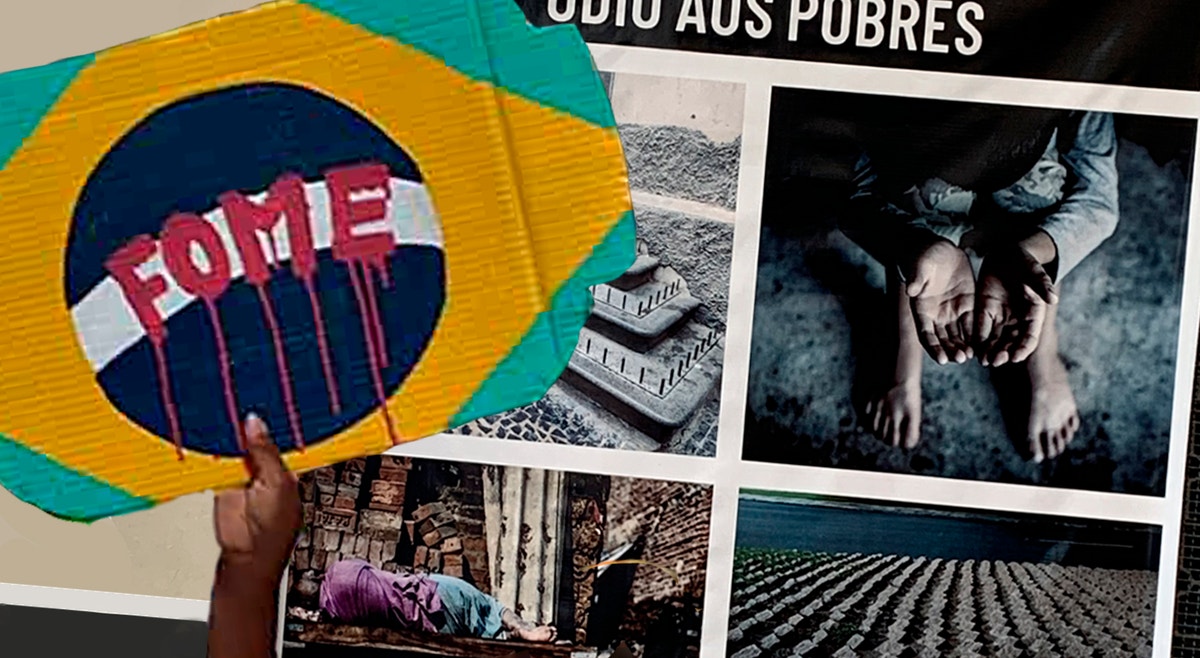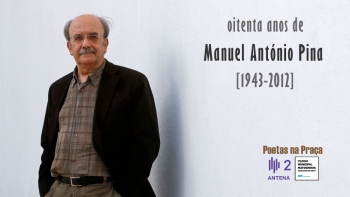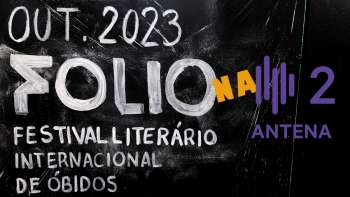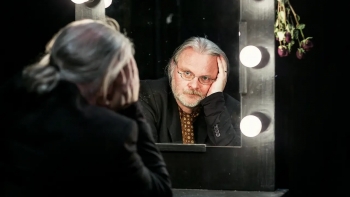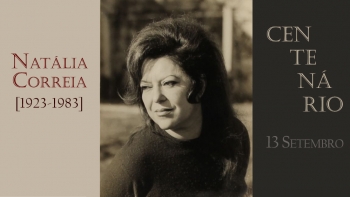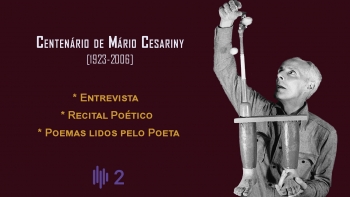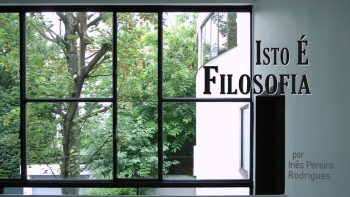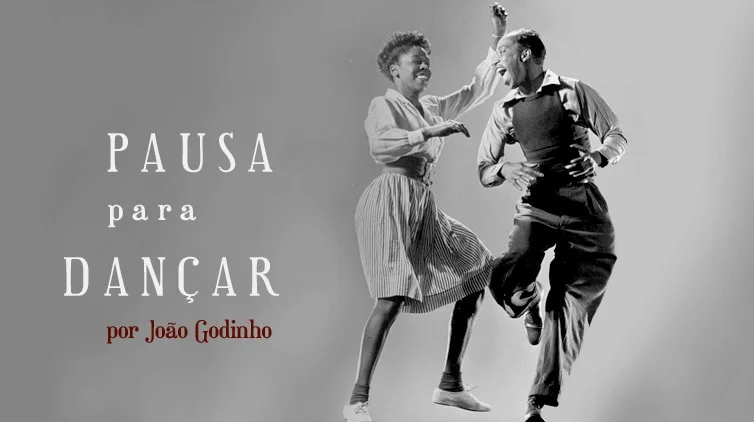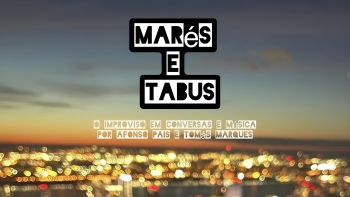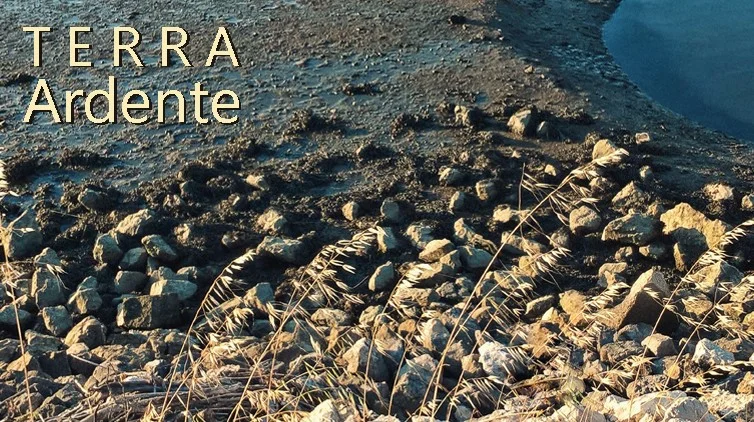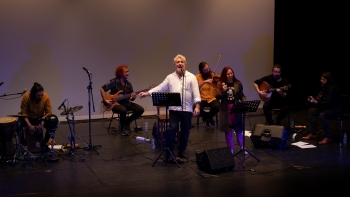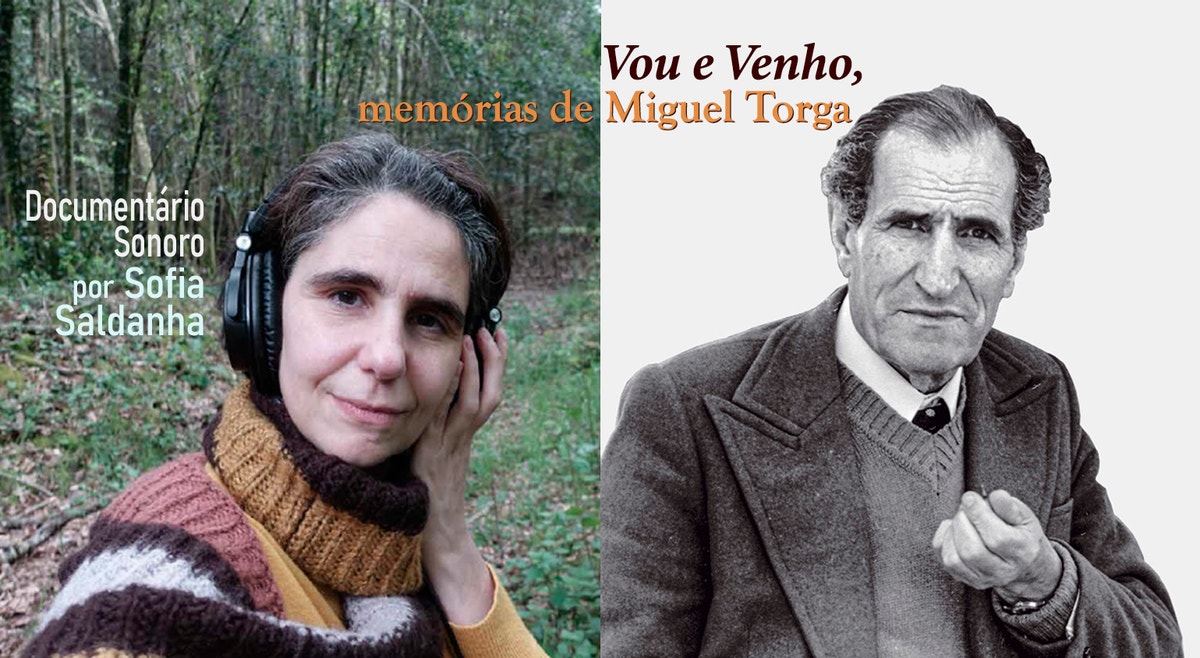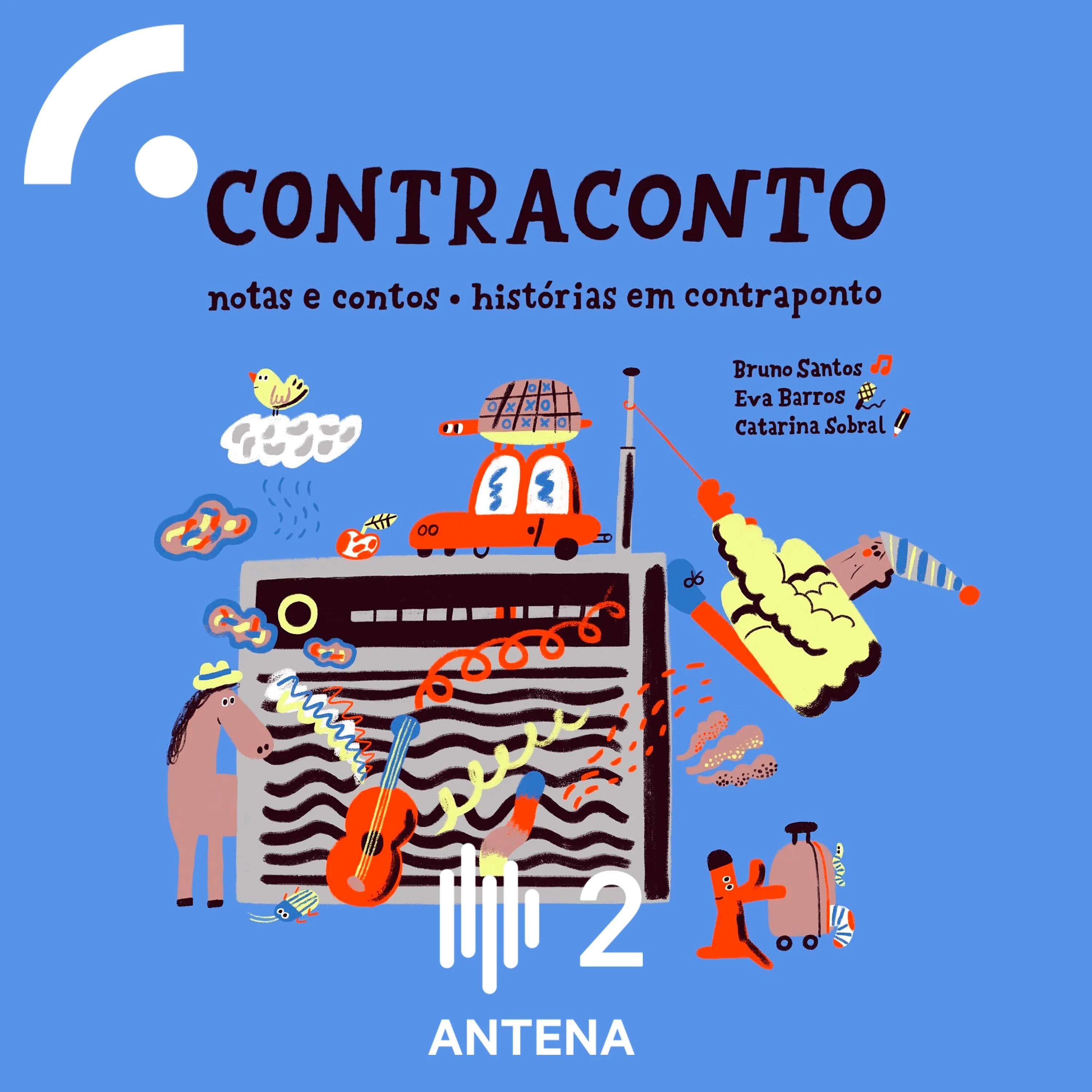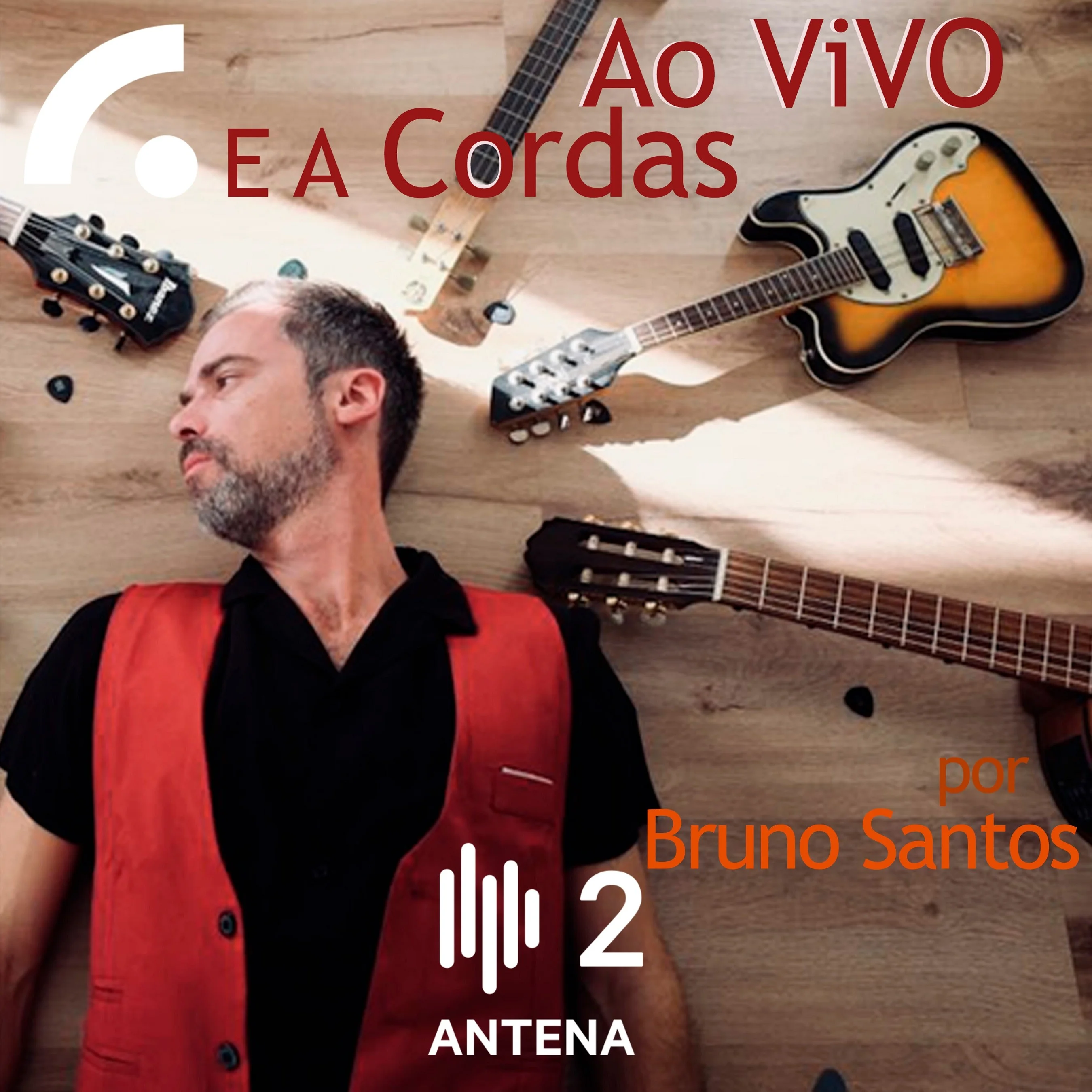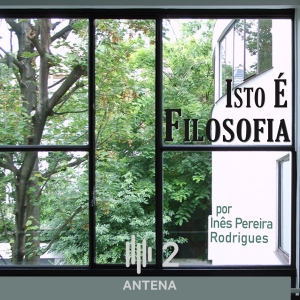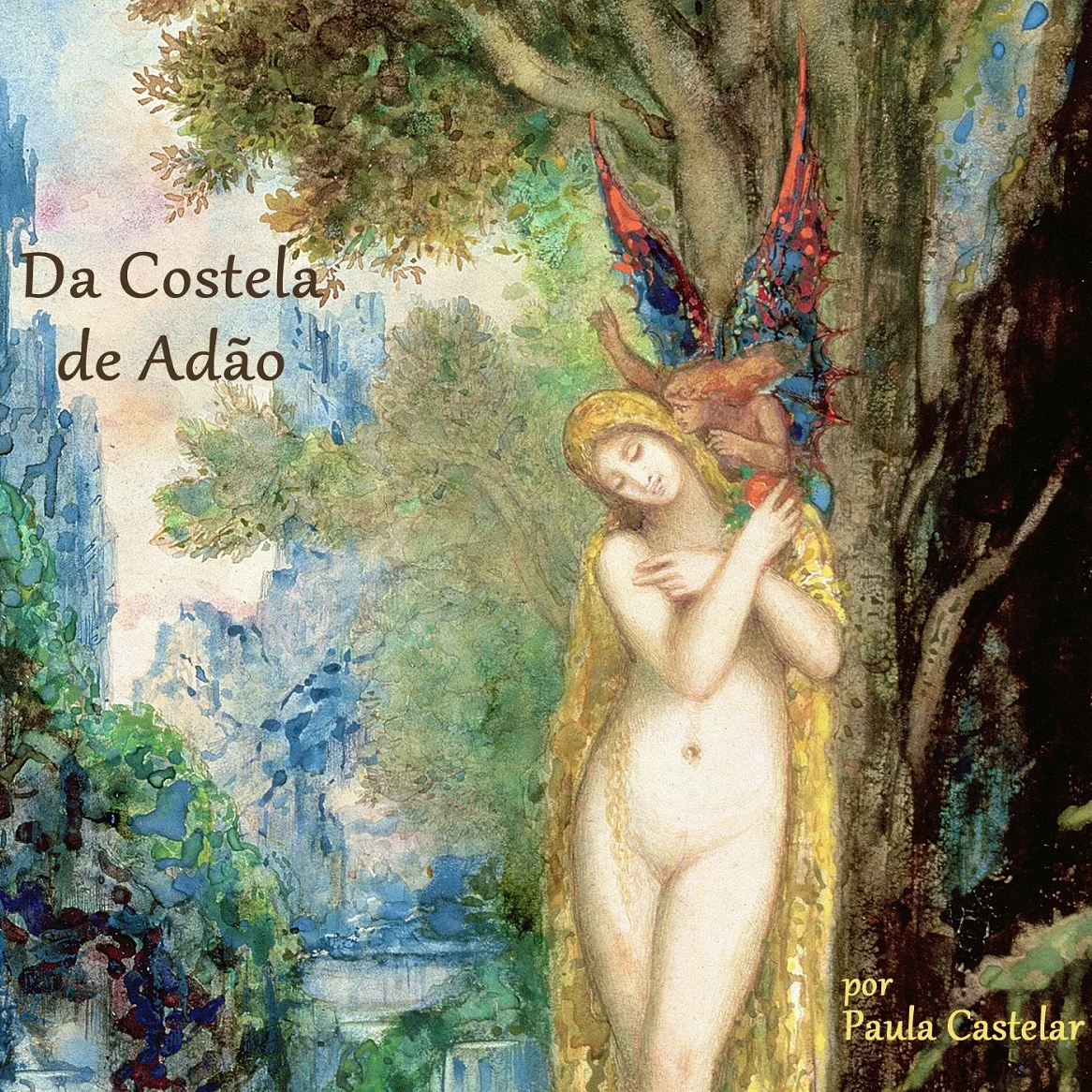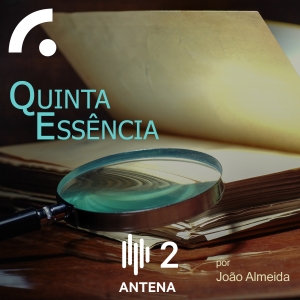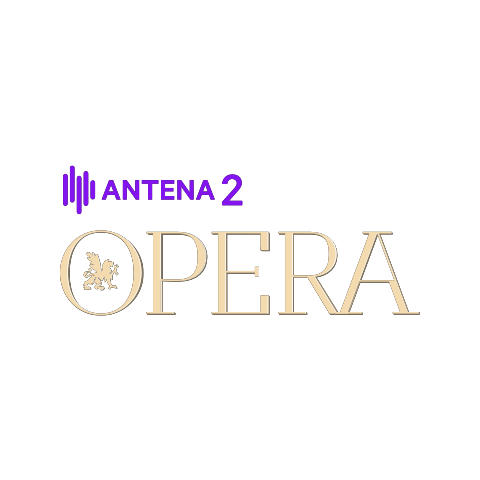Em Foco
Concertos Antena 2
ver todos
+
Em Antena
Programas
ver todos
+
Cultura
ver todos
+
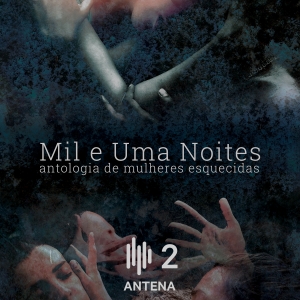
Podcasts 
Todos os Podcasts
Podcasts
ver todos
+