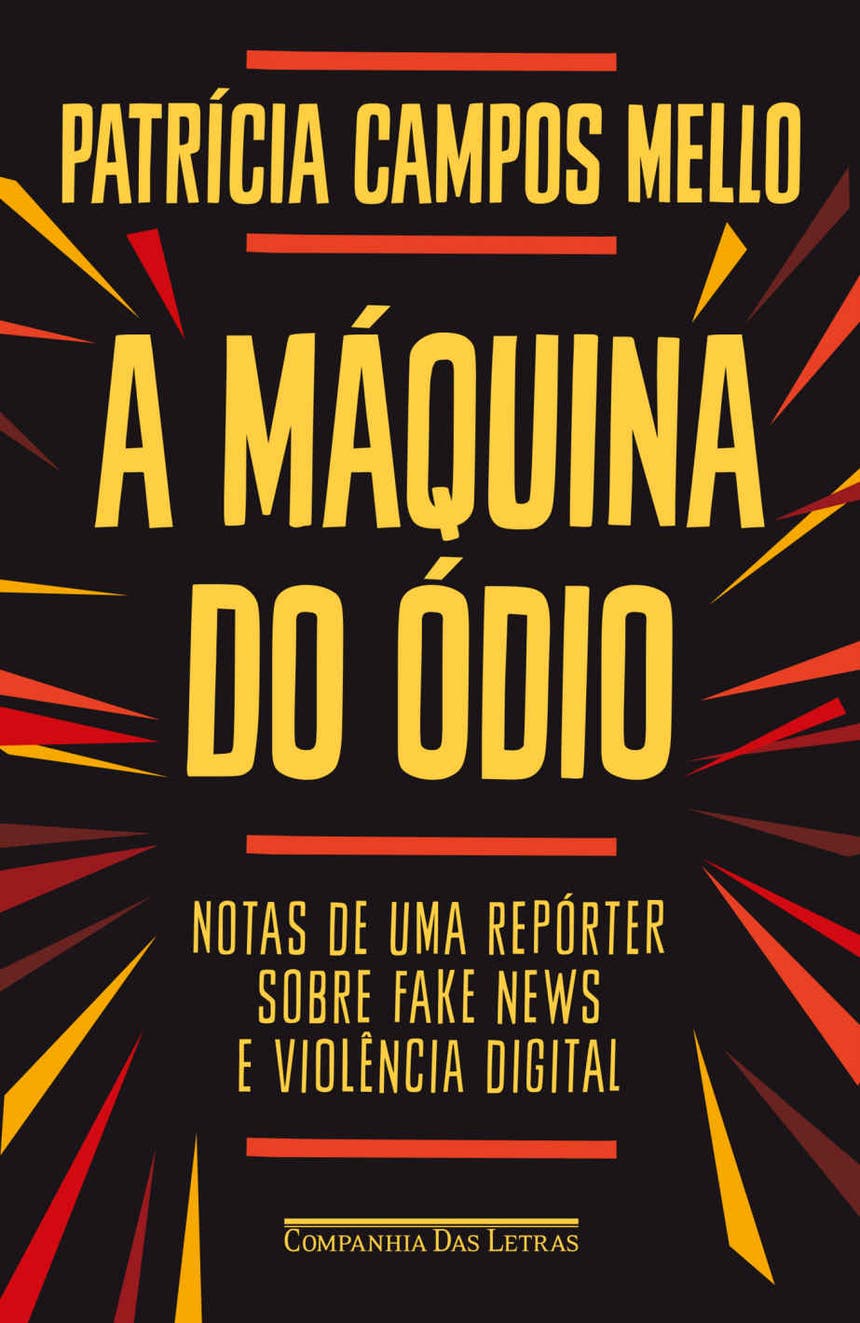Habituada a cenários de guerra e política internacional, Patrícia Campos Mello nem escrevia sobre questões internas. Mas, naqueles últimos meses de 2018, assinou vários artigos sobre empresas privadas que encomendaram uma campanha massiva e ilegal de disparos de WhatsApp para ajudar a eleger Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil.
Na sequência desses artigos, chegou a ter de ser acompanhada por um segurança no momento em que as ameaças mais de adensaram. Tal como outras jornalistas, Patrícia Campos Mello tem sido alvo de ataques misóginos na internet e mesmo intimidações diretas contra si e contra a família.
Os artigos publicados na Folha de São Paulo levaram mesmo à mudança de regras por parte do WhatsApp, mas o impacto na vida pessoal e profissional permanece. Foi isso que levou Patrícia Campos Mello a escrever "A Máquina do Ódio: Notas de Uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital", editado este ano no Brasil pela Companhia das Letras e que em breve deverá ser publicado pela Quetzal, em Portugal.
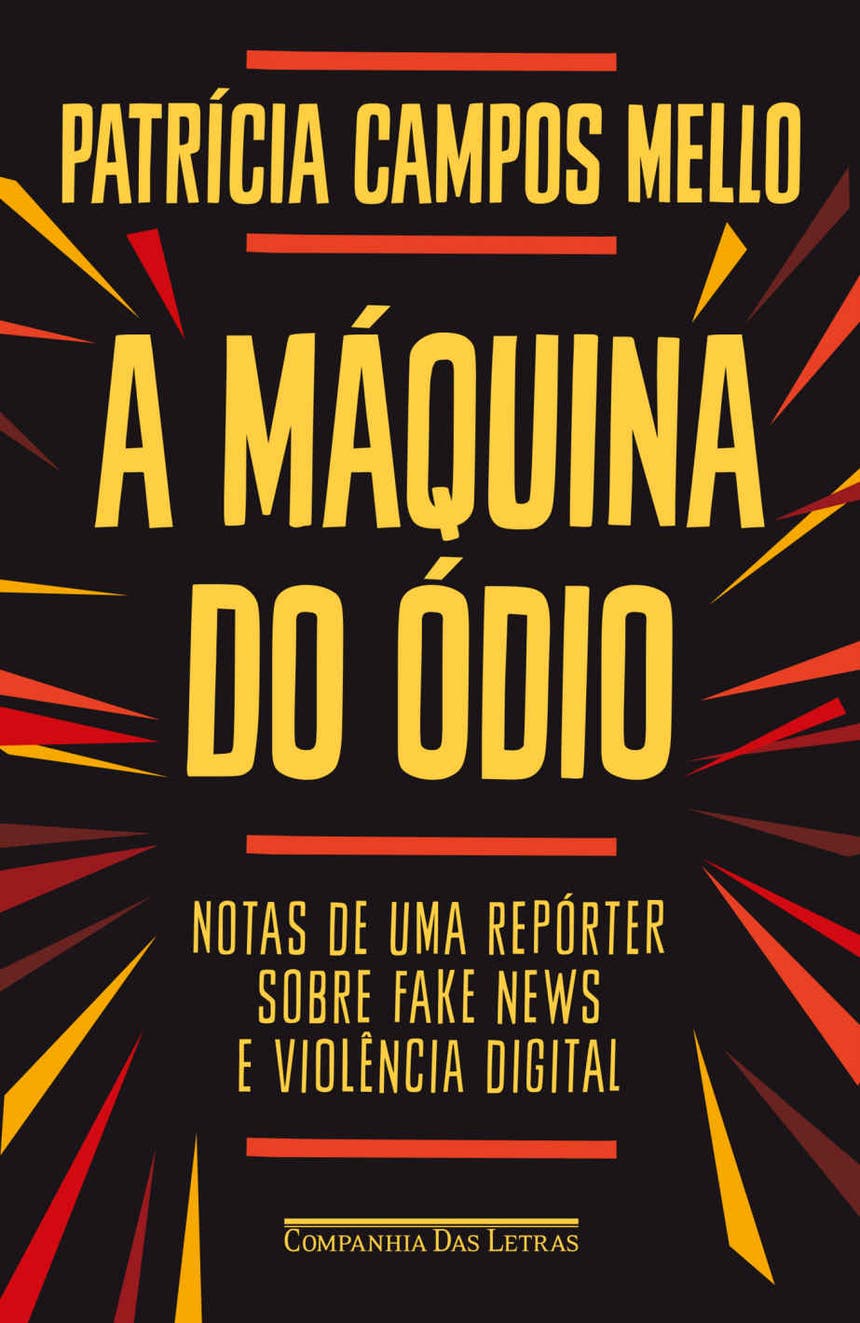
Em entrevista à RTP,
numa altura em que se completam dois anos desde que Jair Bolsonaro foi eleito Presidente, a jornalista conta como tem sido acompanhar os desenvolvimentos no Palácio do Planalto, tendo em conta o ambiente político no Brasil e o facto de o próprio chefe de Estado
fazer insinuações contra si.
Nesta conversa via Skype, Patrícia Campos Mello reflete sobre o estado do jornalismo no Brasil e admite que há um clima generalizado de medo que antecede a publicação de um artigo que vise o Governo ou o Presidente.
“Todo o mundo sabe, todo o jornalista sabe, que a gente é alvo. Quando vai escrever ou publicar uma matéria dessas, vão tentar achar algum jeito de fazer linchamento virtual. E há um custo para a gente, há um custo para a família da gente”, sublinha a jornalista.
Antiga correspondente em Washington, repórter de internacional durante vários anos, a jornalista reflete também sobre o significado das próximas eleições nos Estados Unidos para o Brasil:
“Se o Trump ganhar, isso empodera mais ainda o Presidente Bolsonaro”, alerta.
Sobre a pandemia, Patrícia Campos Mello avisa que os efeitos nefastos da manipulação digital na política poderão repercutir-se também ao nível sanitário: “Você junta o vácuo de liderança e a viralização de notícias falsas e é uma tempestade perfeita”, alerta.
Pergunta: Já foi repórter de guerra em vários países, desde a Síria, Iraque, passando pela Líbia ou o Afeganistão. Mas conta, no livro, que foi em São Paulo que teve de redobrar cuidados com a segurança após as reportagens publicadas durante a campanha das presidenciais no Brasil, em 2018. O que se passou em concreto?
Patrícia Campos Mello: Eu comecei a publicar várias reportagens sobre o uso de disparos em massa de WhastApp contra um dos candidatos presidenciais, explicando como era feito esse disparo em massa e que empresários estavam pagando.
Logo depois que comecei a publicar as reportagens comecei a receber muitas mensagens de ódio, mas até então eram só mensagens na internet. Depois começaram a ligar para o meu celular, dizendo: “Eu vou destruir a sua cara”.
Mandaram mensagens falando do meu filho que era pequeno, falando: “Se você quer segurança do seu filho, saia do país, isso não é uma ameaça, é um aviso”.
Começaram a distribuir a minha agenda, os eventos que eu ia fazer, que eu ia moderar, em grupos de WhatsApp dizendo: “A jornalista comunista, sei lá o que eles me chamavam, vai fazer esse evento, vão lá confrontá-la”.
Quando isso começou a migrar para o mundo real, o jornal teve uma preocupação que talvez eu encontrasse um maluco no mundo físico. Então eles acharam melhor eu ter um guarda-costas que andou comigo, uns dez dias, quinze dias. Não sabemos o que podia acontecer. Desde fevereiro (de 2020) foi outro tipo de ataque, foi assassinato de reputação.
Na Folha de São Paulo costuma escrever sobre assuntos internacionais, mas estes trabalhos de há dois anos mudaram um pouco o foco para a área de política. Como é que tem acompanhado estes dois primeiros anos desde que Bolsonaro foi eleito presidente?
Fui correspondente em Washington e cobria muito a política internacional. Comecei a cobrir isso porque tinha coberto a desinformação nas campanhas eleitorais da Índia e nos Estados Unidos. Também cobria política externa, sempre fiz por exemplo viagens presidenciais, e continuei fazendo. Fiz as últimas, a visita de Bolsonaro a Trump, fiz a visita de Bolsonaro à India.
Obviamente, a gente sabe que nenhum Governo adora imprensa. A imprensa não é muito bem vista. A gente questiona informação, a gente “checka” informação dos governantes, então não é uma novidade haver uma animosidade em relação à imprensa. Mas o que acho que estamos enfrentando no Brasil é uma hostilidade muito maior de um Governo em relação aos jornalistas não-alinhados, independentes. É uma coisa muito mais pessoal. Tem muito de expor as pessoas, a família das pessoas, o endereço das pessoas. É uma coisa muito mais personalizada, e isso dificulta muito o nosso trabalho.
Você tem um Presidente que por exemplo, há poucas semanas, falou que tinha vontade de “encher a boca de porrada” de um repórter. Ele falou isso. É um Presidente que fez uma piada aludindo que eu oferecia sexo para conseguir uma reportagem. Está difícil trabalhar.
Considera que o facto de ser mulher potenciou ainda mais as acusações e as ameaças de que tem sido alvo nestes anos?
Com certeza. Engraçado que eu até escrevo no livro que acho que ser jornalista mulher é uma vantagem incrível, porque a gente tem um acesso a metade da população que às vezes os jornalistas homens têm mais dificuldade de ganhar mais confiança.
Mas aqui no Brasil, nos últimos anos, você tem uma coisa muito direcionada contra mulheres. Tem agressividade com jornalistas homens também. Mas com as mulheres é um grau de agressividade maior e muito misógino. Foi comigo, com a Mira Leitão, com a Vera Magalhães.
Eles não vão dizer: fulana, a sua matéria é uma porcaria. Se a pessoa falar “sua matéria é uma porcaria”, é justo, é do jogo. O leitor ou telespectador dá opinião. Se estiver errada, a matéria vai ter de ser corrigida, vai sofrer um processo, vai ter de pagar.
Mas o que estão dizendo não é isso. Com mulheres eles dizem: “fulana é gorda, é feia, é velha, oferece sexo, o marido, pai ou irmão da fulana é não sei o quê”.
É uma coisa muito direcionada. Ninguém faz memes pornográficos com jornalista homem. Esse tipo de coisa é muito direcionado às mulheres. E este é um Governo que tem tido várias manifestações que são vistas como misóginas, homofóbicas. Então faz parte de um caldo de cultura.
Há uma parte do livro em que estabelece a comparação entre o Brasil da ditadura e o Brasil atual, em que os jornalistas voltam a ser ameaçados. E fala por exemplo da questão da autocensura por parte dos próprios jornalistas, que querem fugir deste “gabinete do ódio”. Que pontos de comparação existem entre as duas épocas, entre a atualidade e a ditadura?
Claro que na ditadura a gente tinha assassinato de jornalistas. Tem que fazer uma diferença, porque era muito mais grave. Mas hoje em dia, da mesma maneira que as ditaduras são muito mais subtis e insidiosas – não há uma censura completa dos jornais, das TVs - você tem uma erosão da democracia dentro dos princípios democráticos, com governos eleitos. Há uma censura que ela também é muito mais insidiosa.
Você simplesmente mobiliza todo um braço do governo, apoiantes para incitar apoiantes a atacarem e a acabarem com a reputação de jornalistas ou de figuras públicas.
Então sim, a gente que faz reportagem de investigação, normalmente o que é que você pára para pensar? Eu estou a fazer uma matéria, então eu penso: “Bom, eu já ouvi todos os lados, eu já checkei informação, eu já peguei os documentos, é só isso que tenho de pensar”.
Agora não, você pensa tudo isso e pensa: “Bom, depois de publicar a matéria quem é que eles vão atacar? Vão atacar a minha mãe, o meu pai, o meu filho? Eles vão falar que eu ofereço sexo?” A gente sabe que vem aí um ataque.
Eu nunca cheguei a me autocensurar, mas isso assusta, não é? Você pára para pensar. É uma intimidação que é eficiente. Todo o mundo sabe, todo o jornalista sabe, que a gente é alvo. Quando vai escrever ou publicar uma matéria dessas, vão tentar achar algum jeito de fazer linchamento virtual. E há um custo para a gente, há um custo para a família da gente.
Qual é que tem sido a influência dos media digitais no dia-a-dia na política brasileira? As regras do Whatsapp mudaram depois do que se passou no Brasil com os envios massivos de mensagens. Mas mudou alguma coisa, na prática?
Acho que as plataformas da internet se deram conta de que elas tinham um problema gigantesco de relações públicas. Você começou a ter uma pressão da sociedade mundial de que eles têm de fazer alguma coisa em relação ao discurso de ódio e desinformação. Então, no caso do Whatsapp, eles foram introduzindo todas essas limitações de reencaminhamento de mensagem que, segundo eles, reduzem a “viralização” de mensagens que estão ganhando muita tração.
Acho também que as autoridades eleitorais também mudaram a legislação depois do que aconteceu em 2018, depois das nossas matérias. Por parte do Whatsapp também existe uma vontade de fazer alguma coisa. Mas a gente publicou
uma matéria há duas semanas mostrando que continuam vendendo esses disparos, continuam vendendo aqueles softwares que fazem “raspagem” de nomes e celulares do Instagram e do Facebook.
Basicamente se você é um candidato, você fala: ”Eu quero mirar eleitores que usaram esta hashtag”. E você puxa, vem com todos os nomes: o meu, o seu, o de todo o mundo, com os celulares, e você pode usar isso para fazer um micro direcionamento de mensagens.
É um problema muito difícil. Você tem a tecnologia, você tem de ficar muito alerta. Continua acontecendo. São coisas que vieram para ficar, esse uso dos dados das pessoas e das redes sociais para tentar manipular.
Foi correspondente nos Estados Unidos durante quatro anos, entre 2006 e 2010. Como olha, a partir do Brasil, para estas eleições norte-americanas que se avizinham?
Para a gente são muito importantes. Aliás, eu estou muito frustrada que esta vai ser a primeira eleição desde 2008 que eu não vou cobrir nos EUA porque a gente não pode entrar nos EUA por causa da Covid-19. Acho que é muito importante porque o Governo brasileiro tem-se apoiado muito no Governo de Donald Trump em todos os fóruns internacionais, em toda esta abordagem de política externa de que nós representamos o Ocidente cristão branco. Você tem essa aliança junto com a Hungria, Polónia, países conservadores. Então, se houver uma mudança de Governo, de partido nos EUA, se Joe Biden vencer, o Governo brasileiro fica mais isolado internacionalmente nessas posições mais polémicas.
Principalmente a política ambiental do Governo brasileiro fica completamente na mira. Porque o Biden já falou diversas vezes disso e a base eleitoral do Joe Biden cobra isso. Nunca vai deixar fazer um acordo comercial ou alguma coisa muito ambiciosa com o Brasil se o Brasil não avançar na política ambiental. Isso vai ser cobrado e acho que para o Brasil isso teria grandes efeitos. Se o Trump ganhar, isso empodera mais ainda o Presidente Bolsonaro, porque é como se fosse uma validação desta política nacionalista, populista que acontece nos EUA e no Brasil.
E acha que a polarização que existe nos EUA também é parecida ou se reflete na polarização que existe no Brasil ou são realidades muito diferentes?
Engraçado que são realidades bastante diferentes, mas o Brasil importou uma série de polémicas da guerra cultural americana. Lá você tem a demonização dos socialistas, dos hispânicos, da imigração. Aqui a gente tem a demonização dos comunistas, dos “petistas”. A gente importou todas essas teorias da conspiração sobre pedofilia. Até o movimento QAnon está-se expandindo no Brasil. Acho que a gente acabou importando do Alt-Right americano ou mesmo do movimento trumpista muitas das coisas da guerra cultural. O que é muito estranho, porque o Brasil é um país muito diferente.
Para além dos Estados Unidos, e é claro, do Brasil, também fala de outros países no livro, nomeadamente na ascensão dos populismos nos casos da Hungria e da Índia. Que semelhanças encontra em todos estes países?
Tem várias coisas comuns. Como populismos, têm sempre a tentativa de galvanizar a sua base de apoiantes em relação ao inimigo comum. Na Europa, na Hungria principalmente é o muçulmano, o imigrante, o Soros, a União Europeia. Na Polónia também, a União Europeia, a população LGBT. Na Índia são os muçulmanos. No Brasil são os comunistas e os libertinos. Todos precisam desse inimigo comum para funcionar e a maioria deles usa as redes sociais de uma forma muito eficiente para moldar a narrativa, para você ditar qual vai ser o ciclo de notícias, para comunicar diretamente com os apoiantes e influenciar a cobertura da media tradicional com muito sucesso.
A media tradicional tem sido usada. Tem virado um megafone de factoides, porque a gente simplesmente reverbera o que esses líderes falam. Então eles têm usado isso muito. Nas Filipinas também, o Duterte usa o Facebook de uma forma super hábil. E por fim, a guerra contra a imprensa, de várias formas. Você pode ter uma forma predominantemente económica, como na Hungria, em que se foi enfraquecendo os veículos que acabaram sendo vendidos a um apoiante de Orban. Na Turquia você também teve uma perseguição tributária, um enfraquecimento. No Brasil você tem além dessa coisa com os anúncios, de pressionar anúncios privados, você tem também a intimidação de jornalistas, que também é muito comum na Índia, especialmente com mulheres também.
Acho que essas três coisas são bem comuns. Você tem que ter um inimigo comum para unir e galvanizar a base de apoio, esse uso muito hábil das redes sociais para manipular o debate público e a guerra contra a imprensa.
Estamos a atravessar um período de pandemia com situações muito complicadas em vários países. Estas campanhas digitais que tiveram tantos efeitos a nível político estão a ter algum efeito no impacto da pandemia no Brasil? Falo por exemplo da desinformação que circula nas redes sociais ou nas campanhas de anti-vacinação.
Gigante, um impacto gigante. Para você ter ideia, uma das notícias falsas mais compartilhadas no Brasil eram vídeos em que eles mostravam caixões que estariam sendo enterrados com pedras dentro porque os perfeitos e os governadores estavam fingindo que a Covid era grave para conseguir dinheiro e que na verdade estavam enterrando caixões cheios de pedras. Essa foi uma das coisas mais compartilhadas.
Por exemplo, eu fiz uma matéria em que o Youtube no Brasil, os canais com mais acessos, que têm informação sobre a Covid, são canais que falam que a cloroquina cura, que ivermectina, que é um vermífugo, cura. Todas essas coisas não têm comprovação científica.
Então você junta esse tipo de desinformação mais um Presidente que colabora para isso. No Twitter ele disse assim: Ninguém vai ser cobaia de vacina e eu não vou obrigar ninguém a se vacinar.
Você junta o vácuo de liderança neste sentido ou mesmo uma liderança equivocada, mais a viralização de notícias falsas, é uma tempestade perfeita. Quando tiver a vacina, sei lá quantas pessoas vão ter medo de se vacinar. O que é muito triste, porque o Brasil tinha uma cobertura de vacinas muito boa. Então, se você começa a incentivar esse tipo de desconfiança em relação à vacina ou invocar a liberdade das pessoas para não tomar vacina, você estraga anos de trabalho de saúde pública.